A Tragédia da Educação
Moderna
“É natural ao ser humano o desejo de conhecer.” Quando li pela primeira vez esta sentença inicial da Metafísica de Aristóteles, ela pareceu-me um forte exagero. Afinal, por toda a parte para onde olhasse - na escola, em família, nas ruas, em clubes ou nas igrejas - eu via-me cercado de pessoas que não queriam conhecer coisíssima nenhuma, que estavam perfeitamente satisfeitas com suas ideias toscas sobre todos os assuntos, e que julgavam um acinte a mera sugestão de que, se soubessem um pouco mais a respeito deles, as suas opiniões seriam bem melhores. De facto, o traço mais conspícuo da mente da maioria era o desprezo soberano pelo conhecimento, acompanhado por um neurótico temor reverencial pelos seus símbolos exteriores: diplomas, cargos, presença nos media.
Quem não tem cultura literária e histórica e um
domínio razoável do legado cultural do passado, dificilmente adquirirá a
capacidade de distinguir com facilidade aquilo que é postiço e soa a falso do
que é real e verdadeiro e, sem esta capacidade, todas as suas ideias virão a
ser erradas desde o início. Quando não
temos consciência das origens históricas das nossas convicções, hábitos e
julgamentos quotidianos, tornamo-nos escravos da sociedade presente, dando
valor de coisa eterna, absoluta e imutável ao que é temporal, relativo,
transitório.
A principal finalidade da educação superior deveria
ser libertar o ser humano desta prisão, ensinando-o a pensar, julgar e sentir
na escala da humanidade, primeiro, e na da eternidade, por fim.
Mas, quem
pretender ter alguma formação intelectual superior, encontra, hoje em dia, nas
universidades, apenas formação técnica ou, então, mera propaganda ideológica e
condicionamento comportamental.
Este facto,
não resulta de puras circunstâncias políticas acidentais mas, antes, de uma
montanha de factores adversos à inteligência humana, que se foram acumulando no
mundo ao longo das últimas décadas. Se a primeira metade do século XX trouxe um
florescimento intelectual incomum, a segunda foi uma devastação geral como
raramente se viu na história. A queda foi tão profunda que já não é possível,
sequer, medi-la.
Num panorama inteiramente dominado por charlatães
caricatos como Noam Chomsky, Richard Dawkins, Edward Said, Jacques Derrida e
Julia Kristeva, a época em que floresceram quase que simultaneamente Edmund
Husserl, Karl Jaspers, Louis Lavelle, Alfred North Whitehead, Benedetto Croce,
Jan Huizinga e Arnold Toynbee - e na literatura T. S. Eliot, W. B. Yeats, Ezra
Pound, Thomas Mann, Franz Kafka, Jacob Wassermann, Robert Musil, Hermann Broch,
Heimito von Doderer - já se tornou invisível, inalcançável à imaginação dos
nossos contemporâneos. Toda comparação só tem sentido se feita entre duas
coisas distintas. Não se pode comparar tudo com nada.
Isso não
quer dizer que as fontes do conhecimento tenham secado. Pensadores de grande
envergadura — um Eric Voegelin, um Bernard Lonergan, um Xavier Zubiri —
sobreviveram à debacle dos anos 60 e continuaram actuantes, o primeiro até
1985, o segundo até 1984, o terceiro até 1983. Mas seus ensinamentos são ainda
a posse exclusiva de círculos selectos. Não entram na corrente geral das
ideias.
A desgraça intelectual deu-se justamente na
“corrente geral” das ideias dos meios académicos. O fim da Segunda Guerra
Mundial trouxe uma prodigiosa reorganização das bases sociais e económicas da
vida intelectual no mundo. Novas instituições, novas redes de comunicação,
novos mecanismos de armazenamento e distribuição das informações académicas,
novos públicos e, sobretudo, a ampliação inaudita do apoio estatal e privado à
cultura, e a formação dos grandes organismos internacionais como a ONU e a
Unesco.
Tudo isto aconteceu juntamente com o descrédito do
marxismo soviético e a profunda mutação interna da militância esquerdista
internacional, por essa altura já plenamente imbuída das duas principais lições
da Escola de Frankfurt, escola que, fartamente financiada pela Fundação Rockefeller,
“requalificou” a ideologia comunista (em, O
Homem Unidimencional, Herbert Marcuse, agradece, de início, o financiamento
prestado por essa mesma fundação): (i)
a luta essencial da revolução não era já contra o capitalismo, mas contra “a
civilização ocidental” e o cristianismo; (ii)
o agente principal do processo revolucionário era, agora, a classe intelectual
e não o proletariado.
Nessas
condições, o crescimento fabuloso dos meios de actuação na cultura foi
acompanhado dum esforço de apropriação desses meios por parte de grupos
militantes bem pouco interessados em “compreender o mundo” mas inteiramente
devotados a “transformar o mundo” de acordo com os seus interesses. A redução
drástica da actividade intelectual, até chegar ao nível actual de mero
activismo político, que então se iniciou, foi a consequência desejada e
planeada dessa operação, realizada à escala mundial a partir dos anos 60.
O fenómeno não era totalmente desconhecido. Um
vasto ensaio geral já tinha sido realizado nos EUA desde a década de trinta
pelo menos, através das grandes fundações “não lucrativas” que descobriram o
seu poder de orientar e manipular a seu bel-prazer a actividade intelectual,
científica e educacional mediante a simples selecção ideologicamente orientada
dos destinatários de suas verbas bilionárias.
Em 1954, uma comissão de investigações do
Congresso americano já tinha descoberto que fundações como a Rockefeller, a
Carnegie e a Ford exerciam um controlo indevido sobre as universidades, as
instituições de pesquisa e a cultura em geral, orientando-as num sentido
francamente anticristão e antiamericano. A influência exercida por essas
organizações não consistiu só em introduzir uma determinada cor política na
produção cultural, mas em alterá-la e corrompê-la até às raízes, subordinando
aos objectivos políticos e ideológicos pretendidos todas as exigências de
honestidade, veracidade e rigor.
Sem essa interferência, fraudes imensas como o
Relatório Kinsey ou a pseudo-antropologia de Margaret Mead jamais teriam
conseguido impor-se nos meios académicos e na comunicação social cultural como
produtos respeitáveis de uma actividade científica normal.
A comissão foi alvo de ataques virulentos de todos
os grandes meios de comunicação, e o seu trabalho acabou por ser esquecido, mas
ainda é uma das melhores fontes de consulta sobre a instrumentalização da
política cultural (Ver René Wormser, Foundations,
Their Power and Influence, Nova York, Devin-Adair, 1958).
Na verdade, sem se estar na posse destes factos
não se pode compreender nada do que se passou de seguida: a experiencia tentada
à escala americana, foi alargada a todo mundo: a apropriação dos meios de acção
cultural pelas organizações militantes e o sacrifício integral da inteligência
humana no altar da “vontade de poder” globalizaram-se.
Recursos incalculavelmente vastos, que poderiam
ter sido utilizados para o progresso do conhecimento e para a melhoria da
condição de vida da espécie humana, foram assim desperdiçados para sustentar a
guerra geral da estupidez militante contra a “civilização ocidental” e o
cristianismo que haviam gerado esses mesmos recursos.
É patético observar como, ainda hoje, já em plena
fase de implantação do governo mundial, os analistas políticos, das
universidades e dos media, continuam a ignorar que os acontecimentos mais marcantes
dos últimos sessenta anos foram: primeiro, a ascensão de elites globalistas,
desligadas de qualquer interesse nacional identificável e empenhadas na
construção não somente de um Estado mundial mas de uma pseudocivilização
planetária unificada, inteiramente artificial, concebida não como expressão da
sociedade mas como instrumento de controle da sociedade pelo Estado; segundo,
os progressos fabulosos das ciências humanas, que depositaram nas mãos dessas
elites meios de dominação social jamais sonhados pelos tiranos de outras
épocas.
Há várias décadas atrás, Ludwig von Bertalanffy
(1901-1972), o criador da Teoria Geral dos Sistemas, ciente de que sua
contribuição para a ciência estava sendo usada para fins indevidos, advertia:
“O maior
perigo do totalitarismo moderno é talvez o facto de que está terrivelmente
avançado não somente no plano da técnica física ou biológica, mas também no da
técnica psicológica. Os métodos de sugestionamento em massa, de liberação dos
instintos da besta humana, de condicionamento ou controle do pensamento
desenvolveram-se até alcançar uma eficácia formidável: o totalitarismo moderno
é tão terrivelmente científico que, perto dele, o absolutismo dos períodos
anteriores aparece como um mal menor, diletante e comparativamente inofensivo.”
Em L’Empire
Écologique: La Subversion de l’Écologie par le Mondialisme, Pascal
Bernardin explicou, com os maiores detalhes, como a Teoria Geral dos Sistemas tem
servido de base para a construção de um sistema totalitário mundial, que nos
últimos trinta anos, definitivamente, saiu do estado de projecto para o de uma
realidade patente, que só não vê quem não quer.
O cidadão comum das democracias nem pode ter ideia
da pletora de recursos hoje postos à disposição dos novos senhores do mundo
pela psicologia, pela sociologia, etc.
O Instituto Tavistock, em Londres, por exemplo,
foi constituído pela elite global em 1947 com a finalidade única de criar meios
de controle social capazes de conciliar a permanência da democracia jurídica
formal com a dominação completa do Estado sobre a sociedade.
Só para se fazer uma ideia de até onde a coisa
chega, os programas educacionais de quase todas as nações do mundo, em vigor
desde há pelo menos trinta anos, são determinados por normas homogéneas directamente
impostas pela ONU e calculadas, não para desenvolver a inteligência ou a
consciência moral das crianças, mas para fazer delas criaturas dóceis,
facilmente moldáveis, sem carácter, prontas a aderir entusiasticamente, sem
discussão, a qualquer nova palavra de ordem que a elite global julgue útil para
os seus objectivos. Os meios usados para o conseguir são técnicas de controle
“não aversivas”, concebidas para fazer com que a vítima, cedendo às imposições
da autoridade, sinta fazê-lo por livre vontade e desenvolva uma reacção
imediata de defesa irracional à simples sugestão de examinar criticamente o
assunto em apreço.
Seria um eufemismo dizer que a aplicação em massa
dessas técnicas “influencia” os programas de educação pública: elas são todo o
conteúdo da educação escolar actual. Todas as disciplinas, incluindo matemática
e ciências, foram reformuladas para servir os propósitos de manipulação
psicológica. O próprio Pascal Bernardin descreveu meticulosamente o fenómeno em
Machiavel Pédagogue. Leiam e
descobrirão por que os vossos filhos não conseguem ler uma obra clássica ou
completar uma frase sem erros gramaticais, mas voltam da escola - depois de
terem sido, anos a fio, intoxicados de rectórica
marxista-feminista-multiculturalista-gayzista -falando grosso como um
comissário do povo, exigindo dos pais uma conduta “politicamente correcta” e reagindo
com quatro pedras na mão diante de qualquer tentativa de antagonizar a opinião
de seus semiletrados professores esquerdistas (ver, também, a propósito, Dumbing Dow America, de James Delisle).
O primeiro passo para a institucionalização da
corrupção generalizada no mundo - abrindo caminho a uma intervenção exponencialmente
invasiva do Estado na vida das pessoas a pretexto de controlar o caos,
entretanto, instalado - é, precisamente, a destruição da moral tradicional e a sua
substituição pelo aglomerado turvo de slogans e casuísmos politicamente
correctos que, sendo vazios e moldáveis às conveniências tácticas do momento,
só servem para concentrar ainda mais
poder nas mãos dos mais poderosos, cínicos e despudorados. Quando as noções
simples de veracidade, honestidade e sinceridade são neutralizadas como meros “preconceitos”
e, em seu lugar, se consagram fetiches verbais hipnóticos como “justiça
social”, “racismo” e “sexismo” que mais se pode esperar senão a confusão geral
das consciências e a ascensão irrefreável da vigarice generalizada?
A rapidez com que mutações repentinas de
mentalidade, muitas delas arbitrárias, grotescas e até absurdas, são impostas universalmente
sem encontrar a menor resistência, como se emanassem de uma lógica irrefutável
e não de um maquiavelismo desprezível, pode ser explicada pelo adestramento escolar
que prepara as crianças para aceitar as novas modas como mandamentos divinos,
Mas, evidentemente, a escola não é a única agência
empenhada em produzir esse resultado. A grande media e a indústria do entretenimento,
hoje maciçamente concentradas nas mãos de megaempresas globalistas, têm também
um papel fundamental na estupidificação das massas. Para isso, uma das técnicas
mais empregue é a da dissonância cognitiva, descoberta do psicólogo Leon Festinger
(1919-1989).
Embora esse processo seja de alcance mundial, o
seu peso foi mais sentido em países mais novos do terceiro nundo, onde as criações
de épocas anteriores não tinham sido assimiladas com muita profundidade e as
raízes da civilização podiam ser mais facilmente cortadas.
No Brasil,
por exemplo, da década de sessenta em diante, os progressos da barbárie foram
talvez mais rápidos do que em qualquer outro lugar, destruindo com espantosa
facilidade as sementes de cultura que, embora frágeis, vinham dando alguns
frutos promissores. A comparação impossível entre as duas épocas, que mencionei
acima, é ainda mais impossível no caso brasileiro.
Na década de 50, tínhamos, vivos e actuantes,
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, José Lins do
Rego, Álvaro Lins, Augusto Meyer, Otto Maria Carpeaux, Mário Ferreira dos
Santos, Vicente Ferreira da Silva, Herberto Sales, Cornélio Penna, Gustavo
Corção, Nelson Rodrigues, Lúcio Cardoso, Heitor Villa-Lobos, Augusto Frederico
Schmidt, a lista não acaba mais.
Hoje, quem representa nos media a imagem da
“cultura brasileira”? Paulo Coelho, Luís Fernando Veríssimo, Gilberto Gil, Arnaldo
Jabor, Emir Sader, Frei Betto e Leonardo Boff. Perto destes, Chomsky é um
Aristóteles.
E, ainda por cima, a palavra “cultura” evoca hoje,
desde logo, uma ideia errada; “Cultura”
significa antes de tudo “artes e espectáculos” - e as artes e espectáculos, por
sua vez, resumem-se a três funções: dar um bocado de dinheiro aos que as
produzem, divertir o povão e servir como caixa-de-ressonância da propaganda
política.
Que a
cultura devesse também tornar as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais
adultas, mais responsáveis pelas suas acções e palavras, é uma expectativa que
já desapareceu da consciência geral há muito tempo.
A alta cultura simplesmente desapareceu;
desapareceu tão completamente que já ninguém dá pela sua falta.
Chamar a isto crise, ou mesmo decadência, é de um
optimismo delirante. A cultura tornou-se a caricatura de uma palhaçada. É uma
coisa oca, besta, disforme, doente, incalculavelmente irrisória.
A inteligência, ao contrário do dinheiro ou da saúde,
tem uma peculiaridade: quanto mais se perde, menos se dá pela sua falta. O
homem inteligente, afeito a estudos pesados, logo acha que emburreceu quando,
cansado, nervoso ou mal dormido, sente dificuldade em compreender algo. Mas,
aquele que nunca entendeu grande coisa acha-se perfeitamente normal quando não entende
nada.
Uma das
coisas que me delicia e me leva ao êxtase, quando contemplo o mundo de hoje, é
o ar de seriedade com que as pessoas discutem e pretendem sanar os males
económicos, políticos e administrativos, sem ligar a mínima para a destruição cultural,
como se a inteligência prática subsistisse incólume ao emburrecimento geral,
como se inteligência fosse um adorno a ser acrescentado ao sucesso depois de
resolvidos todos os problemas, ou como se a inépcia absoluta não fosse um
obstáculo à conquista da felicidade geral.
Nenhum ser
humano ou país está mais louco do que aquele que acredita poder resolver todos
os seus problemas primeiro, para se tornar inteligente depois.
A inteligência não é um adorno do vencedor, é o
caminho da vitória. Não é a cereja no topo do bolo, é a receita do bolo.
Nem tudo pode ser resolvido com formulazinhas
prontas, com pragmatismos rotineiros, com improvisos imediatistas ou mesmo com
técnicas da moda, por avançadas que sejam, se não houver por trás delas uma
inteligência bem formada, poderosa, capaz de as transcender e por isso, só por
isso, capaz de as manejar com acerto?
A sólida estupidez actual é a culminação de pelo
menos sessenta anos de desprezo pelo conhecimento. A aposta obsessivamente
repetida no poder mágico da ignorância esperta levou finalmente ao resultado
inevitável: a bancarrota cultural, moral e política.
Hoje, todos restringem o uso da racionalidade às
suas actividades profissionais particulares, abandonando as escolhas pessoais
de vida e as opções políticas à miragem de sonhos e desejos irracionais; tanto
as classes populares como as próprias “elites” – políticos, académicos, empresários,
jornalistas e formadores de opinião em geral - são dependentes de propaganda,
slogans e imagens ilusórias, e são tão completamente incapazes de um exame
realista do estado das coisas, quanto os empregadinhos de escritório de que
falava Eric Voegelin.
Se alguém lhes dá factos, razões, diagnósticos
fundamentados e previsões acertadas, sentem-se mal.
Não se ofendem quando lhes sonegam a verdade; mas
quando lhes contam alguma verdade que divirja das pseudocertezas estereotipadas
dos media populares, hoje investidos de autoridade pontifícia, reagem com
horror.
Não querem conhecimento, visão, maturidade: querem
aquele conforto, aquele amparo psicológico, aquelas ilusões anestésicas que os
manipuladores totalitários jamais deixarão de lhes fornecer.
O exercício da razão, hoje, é um privilégio exclusivo
dos grandes decisores estratégicos e engenheiros comportamentais - que por
motivos óbvios não pensam em o partilhar com ninguém - e de alguns estudiosos independentes
que tentam em vão partilhá-lo com quem não o deseja.
Sendo a acção política um subproduto da cultura, no
estado em que as coisas estão, nenhuma acção política inteligente, é previsível
nas próximas duas ou três gerações. Da política nada de bom se pode esperar,
portanto, num prazo humanamente suportável.
Uma acção cultural de grande escala - a fundação
de autênticas instituições de ensino superior - também não é nada provável, dado
o estado das chamadas “elites” e, até da Igreja.
A única solução viável, que vejo, é a formação de
pequenos grupos solidários, firmemente decididos a obter uma formação
intelectual sólida, sem nenhum reconhecimento oficial ou académico.
O processo é trabalhoso, mas simples: cumprir as
tarefas tradicionais dos estudos académicos: dominar o trivium, aprender a escrever lendo e imitando os clássicos de três
idiomas pelo menos; aprofundar o mais possível o conhecimento de Aristóteles, Platão e Tomás de Aquino (qualquer
ideia que não venha pré anunciada na Bíblia, em Platão ou Aristóteles,
provavelmente é asneira); ler muito Leibniz, Schelling e Husserl; absorver o
mais possível o legado da universidade alemã e austríaca da primeira metade do
século XX, conhecer muito bem a história comparada de duas ou três
civilizações, absorver os clássicos da teologia e da mística, e então, só
então, ler Marx, Nietzsche e Foucault.
Se depois deste regime você ainda se impressionar
com estes três, é porque você é burro, mesmo, e não há nada a fazer.
A partir, de textos de Olavo de Carvalho
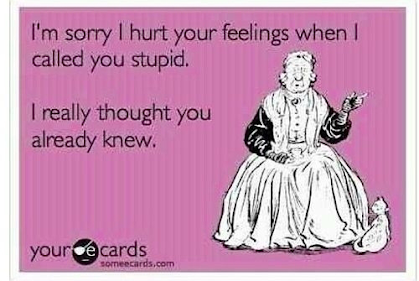



Impressionante!
ResponderEliminarUma síntese clara para um homem ser um Homem.
ResponderEliminarFelicitações,
JJ